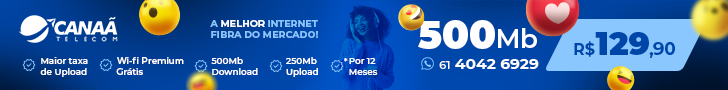Toda pessoa que teve sua infância no Brasil entre as décadas de 1980 e 1990 presenciou uma guinada absoluta, não apenas na sociedade e no país, mas em todas as mudanças que vimos no decorrer de nossa juventude. Acompanhamos a era da telefonia analógica e das linhas de telefone sendo passadas em testamento, até chegar aos dias de hoje, em que chips com números variados são comprados em qualquer lugar. Vimos a chegada dos primeiros computadores – a preço muito superior ao de um veículo popular – e passamos pela popularização da informática. Fizemos pesquisas em enciclopédia, utilizamos a internet discada (apenas após a meia noite, era mais barato) e, com muito espanto, presenciamos a chegada da banda larga e, depois, do wi-fi.
Em todas essas mudanças, a sociedade mudou e o país também. Até a abertura comercial brasileira, ocorrida em 1992, havia preponderantemente cinco tipos de tênis, três dos quais manufaturados pelas maiores marcas de então como opção aos consumidores. Dos outros dois, o mais barato era inviável: destruía-se após pouco uso. O mais caro era impossível comprar: importado, chegava ao país em pequenas quantidades e sua propriedade era privilégio de poucos.
A chegada dos importados mudou não apenas o preço dos tênis mais caros, como deu aos consumidores brasileiros – até então escravos de poucas opções de produtos e serviços – novas opções de compra. A maior parte delas era não apenas melhor do que o que se oferecia domesticamente, mas era também mais barata. Enquanto para os consumidores esse momento foi incrível, as indústrias nacionais padeceram: a abertura, feita quase que do dia para a noite, não se preocupou em melhorar o ambiente de negócios do país ou estimular a inovação. As empresas brasileiras de então, protegidas por décadas de cotas às importações e tarifas absurdas aos itens estrangeiros, lucravam com uma demanda muito mais alta do que a oferta. Com as poucas opções disponíveis no mercado, os consumidores brasileiros contentavam-se com aquilo que acreditavam ser bom. Até a chegada dos importados...
Os produtos importados, que inundaram o mercado brasileiro a partir de 1992, nos mostraram um novo mundo de funcionalidades e de qualidade. Com isso, não apenas nos tornamos mais exigentes enquanto consumidores, mas aquelas empresas brasileiras que quiseram prosperar precisaram inovar, se reorganizar e se reestruturar para a nova era de concorrência que se abria ali.
Depois de pelo menos três décadas de abertura comercial brasileira, é triste perceber que o ambiente de negócios do Brasil não melhorou. Segue-se sufocando o setor produtivo com burocracias desnecessárias e desconexas, e com o sistema tributário mais insano possível. Agora, na era da internet e do digital, em que os consumidores sabem o que há de melhor e mais barato fora daqui, fica cada vez mais difícil convencer os que se conectam a tudo o que existe por todo o mundo com poucos cliques.
Para passarmos a competir bem num cenário cada vez mais concorrido, deveríamos pensar em ciência e tecnologia, inovação, desoneração, reforma tributária e infraestrutura. Ao invés disso, tomamos a saída mais fácil: o protecionismo. Se até então havia a isenção de US$ 50 dólares para que os consumidores comprassem itens do exterior, essa isenção deixa de existir. É certamente mais fácil fecharmos as fronteiras mais uma vez do que tentarmos produzir melhor e mais barato.
Ainda que o governo insista que essa isenção nunca existiu, nosso confuso repertório de leis prova o contrário: uma portaria do Ministério da Fazenda de 1999 (Portaria MF 156, de 24 de junho de 1999) e uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil do mesmo ano (Instrução Normativa SRF n.º 096, de 4 de agosto de 1999) isentavam as remessas de até US$ 50 para o nosso país.
Por favor, não me entendam mal: esse texto não é uma defesa de produtores chineses, muito menos da SHEIN, que sabidamente explora seus trabalhadores com jornadas semanais de mais de 80 horas. É uma defesa da nossa liberdade de escolha, é um apelo a um governo que se preocupe com soluções de longo prazo e não com as facilidades imediatas.
A partir de 11 de abril deste ano, todas as compras brasileiras feitas por qualquer plataforma de e-commerce que cheguem ao país seriam taxadas – mais ou menos como se fazia com os tênis da minha infância, além daquelas três marcas conhecidas. No fundo, essa medida do governo buscava não apenas arrecadar, mas privilegiar uma produção nacional que certamente seria melhor e mais barata caso não fosse estrangulada pelo próprio governo. Aqui, mais uma vez, o governo tenta nos enganar ao afirmar que quem pagaria os tributos seriam as empresas (como se essas empresas não fossem repassar esses valores em custos aos consumidores finais). A repercussão negativa foi, por óbvio, tão grande que o governo voltou atrás. Infelizmente, nossos governantes não voltaram atrás na estapafúrdia ideia de manter estatais deficitárias em funcionamento ou no aumento dos salários do Judiciário e Legislativo.
No fundo, a taxação das compras on-line repetiria as velhas fórmulas falidas: ao invés de se aprimorar o ambiente de negócios, desonerar o setor produtivo e realizar finalmente as reformas administrativa e tributária; seguir-se-ia o caminho mais fácil. Se as políticas econômicas da década de 1980 estiverem voltando, logo estaremos de polainas.
*João Alfredo Lopes Nyegray é doutor e mestre em Internacionalização e Estratégia. Especialista em Negócios Internacionais. Advogado, graduado em Relações Internacionais. Coordenador do curso de Comércio Exterior na Universidade Positivo (UP). Instagram: @janyegray


.gif)

.gif)